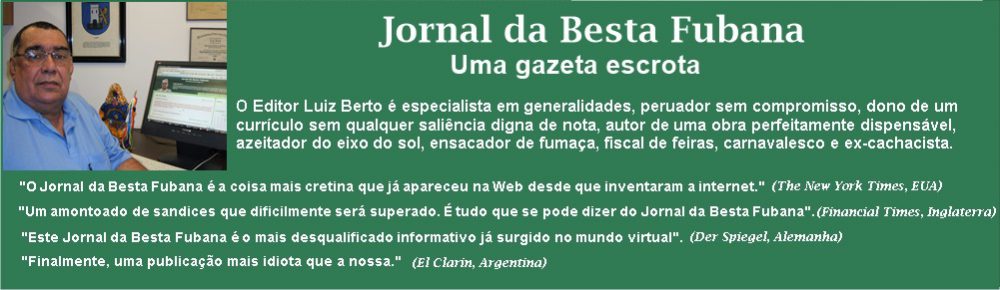Veio o grande circo. Palco da esperança ecológica, cartaz publicitário da salvação do planeta — e, no entanto, encenado com luxo, privilégio e inconsistência. A COP30 ergueu-se prometendo salvar a Amazônia, domar o aquecimento global, restaurar a justiça climática. Mas o que vemos, nas entrelinhas da propaganda, é o espetáculo dos desvios — de finalidade, de prioridades, de honestidade.
1. A hipocrisia estrutural
Os delegados chegaram para discutir emissões-zero e descarbonização enquanto as emissões globais continuavam a subir. Os anfitriões brasileiros anunciaram ser “a COP na Amazônia”, símbolo de sustentabilidade — e, simultaneamente, avalizaram leilões de exploração de óleo e expansão de infraestrutura que favorecem o agronegócio e os combustíveis fósseis.
O discurso: “Defender a floresta, proteger o clima”. A prática: reuniões em navios-cruzeiro, hotéis sobrecarregados, taxas de estadia para países pobres maiores que toda a contribuição de alguns para a própria conferência.
2. O custo da exclusão
Uma das grandes piadas desta COP30 é a ideia de “inclusão global”. Mas como incluir quando se exige das delegações diárias de US $ 700 ou mais por noite — enquanto muitos países vulneráveis têm orçamentos reduzidos à míngua?
A cidade-sede, Belém, com 18.000 leitos para estimados 45.000 participantes — problema logístico grave? Sim. Mas grave sobretudo é serem os países mais atingidos pelas mudanças climáticas aqueles que ficam de fora porque “não cabem” no orçamento do espetáculo.
Assim, a salvação do planeta vira convenção de ricos — ou convenção que só incluem aos que podem pagar.
3. Distorção da finalidade: espetáculo versus ação
O que esta COP mais entrega: painéis, discursos, compromissos que soam grandiosos, frases de efeito. Mas onde está a alocação concreta de fundos, a limitação real das emissões, a supervisão eficaz das metas? Os relatórios mostram que apenas 25 países haviam submetido suas novas contribuições nacionais (NDCs) antes da COP30.
Dito de outra forma: chegamos à COP para “salvar o clima”, mas sem que o mecanismo global tenha equilibrado de fato a balança entre promessa e execução. Enquanto isso, a energia predatória segue em ascensão, os combustíveis fósseis seguem financiados, os lucros dos grandes atores permanecem intactos.
4. Luxo, ostentação e descompasso moral
Enquanto o mundo clama por moderação de carbono, se inaugura infraestrutura própria para acomodar delegações: navios-cruzeiro como hotéis temporários, iates e barcos transformados em “soluções de alojamento” — alusão grotesca ao “vamos debater o clima enquanto navegamos no símbolo do luxo”. Para muitos, a COP30 tornou-se o palco do que o comentarista chamou de “climate greenwashing deluxe”, traduzido ao pé da letra como “lavagem verde climática de luxo.”
Não é mero detalhe: é metáfora da falência ética daquilo que deveria ser o mais sério compromisso coletivo da humanidade.
5. O resultado previsível: esperanças perdidas
Há pouco mais que retórica. O cronograma global de US $ 300 bilhões anuais até 2035 foi anunciado no COP29, mas qual o mecanismo concreto para cumprir? Tendências mostram que a ambição falha e que o cronograma será estendido ou recuado.
Enquanto isso, o relógio climático não espera.
Conclusão: O Despertar ou o Acordar Tardio
A COP30 podia ser um monumento de viragem — mas corre o risco de ser apenas mais um símbolo de impotência, com rostos famosos, discursos eloquentes e almoços nababescos, mas sem mudanças reais. A hipocrisia não está nas intenções, nem sequer sempre nos indivíduos. Está na “estrutura”. (Leia-se aqui, o desgoverno). Quando a finalidade original — “reduzir emissões, proteger os vulneráveis, reconstruir a justiça” — se transforma em “login em viagem internacional, encontro de elites, protocolo diplomático”, o resultado não podia ser diferente: espetáculo sem substância.
É hora de exigir que resumam menos, façam mais. Que não se reservem iates e navios-cruzeiro para debater justamente, modo de vida sustentável. Que países vulneráveis tenham assento de verdade, não ingresso de luxo. Que promessa signifique execução, e que metas inalcançáveis deixem de ser promessa de marketing.
Porque se o grande encontro global para “salvar o clima” não for credível, será apenas parte do problema — e não da solução.