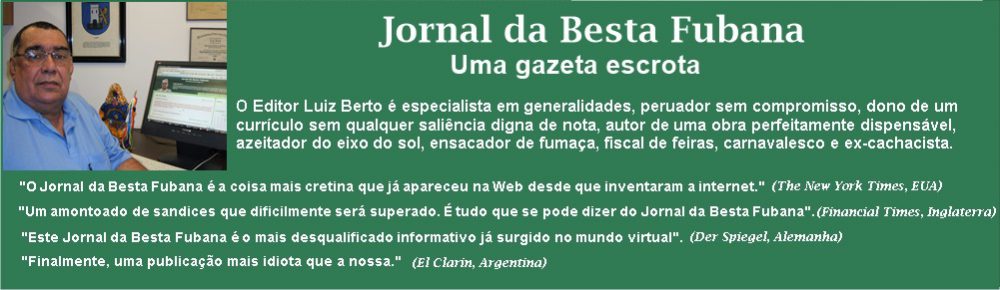Arquivo diários:9 de novembro de 2025
DEU NO JORNAL

WELLINGTON VICENTE - GLOSAS AO VENTO

GLOSAS
A gente sai do sertão
E o sertão não sai da gente!
Mote de domínio público
Ao pessoal de Altinho-PE, especialmente dos sítios Sobradinho, Letreiro e Carão.
Quase todo nordestino,
Depois da adolescência,
Tangido pela carência
Procura um novo destino:
Vira mais um “severino”
Vivendo em novo ambiente,
Mesmo sendo diferente
Não esquece a tradição.
A gente sai do sertão
E o sertão não sai da gente!
É São João, mas eu não sinto
O cheiro de milho assado,
Tenho na frente um teclado
E a tela é meu labirinto.
Toco um CD de Jacinto,
Lembro a minha terra ausente,
Ligo, mas nenhum parente
Ouve a minha ligação.
A gente sai do sertão
E o sertão não sai da gente!
Parece que estou vendo,
Lá no forró do Letreiro,
O velho Heleno Cordeiro
A cotinha recolhendo.
João de Quitéria trazendo
Cachaça com caldo quente,
Zé Biquara no batente
Amarrando um foguetão.
A gente sai do sertão
E o sertão não sai da gente!
Tenho em minha companhia
Somente o computador,
Uma dose de licor
E a parceira poesia
Que pega a minha agonia
E a transforma em Repente,
O “e-mail” segue urgente
Transportando a emoção.
A gente sai do sertão
E o sertão não sai da gente!
DEU NO JORNAL

TEMA RELEVANTE. PODIAM ENFIAR OS METEORITOS NO FURICO
ROQUE NUNES – AI, QUE PREGUIÇA!

DEDÉ
Conheci Dedé, pratrasmente, no tempo quando ele tinha seus 12 anos. Moleque sambudo, seco como taquara prestando vassalagem aos desmandos do vento. Passarinhista da melhor qualidade, desabusado da boca, mentiroso e invencioneiro. Tinha todos os sintomas do povo da política; não via a hora dele se tornar um deputado, ou um senador.
Vivia nos atrasos dos ermos, enterrado igual moirão em terra de pasto e boi, um lugarzinho mimoso, de grandes águas e vastos pastos chamado Remanso. Desde moleque dizia que cidade era coisa inventada por Satanás. O seu barulho dava, nele, câimbras nos olhos e deixava roncolho seu ouvido de ouvir.
Apaixonado por caça desde o gosto do primeiro leite, não tinha semana que sua mesa não estava desprovida de munição de boca, principalmente carne de capivara, ou mesmo onça, que ele tinha na mais alta qualidade de ser sustanciosa e revigorativa. Dedé estralava a língua quando falava em carne de caça e vivia sempre com sua lazarina encangalhada nos ombros. Passou caça alentosa, chumbo nela. Caça desimportante como preá, tatu, cotia, ou mesmo sariguê, ele deixava passar.
Voltei a reencontrá-lo dez anos depois, pardavasco troncudo, voz grossa de entulhar sala e saleta, já no depois dos seus vinte anos, liso como veado catingueiro, mais rápido que bacurau na boca da noite. Contou-me que o progresso foi chegando no seu paraíso de mato e bicho, e ele, Dedé, foi ficando desimportante no mato. Assim, tristento e cacarejoso fechou sua casinha, deu adeus a seus pés de pau e teve que ir para a cidade.
Instalado lá, não se cansava de praguejar o lugar, um oco do mundo chamado Sossego, terra que o que mais dava era assombração de cemitério, visage de menino pagão e assobiar de lobisomem no depois da meia noite. Terra que Belzebu renegou! Lugar que Satanás esconjurou, gritava ele! Mato era sempre melhor, mas teve que se adaptar.
Sempre fornido de coragem e valentia, como se tivesse acabado de ganhar a guerra dos Lopes, só queria que um desses empestiados viesse tirar farinha, ou desfazer de sua pessoa, nas noites de breu, sem lua, ou em sexta feira de lua cheia. Jurava para si mesmo que iria desfazer a audácia do desabusado a poder de safanão e grito! Toma sem-vergonha! Toma filhote de alisador de tamborete, com alma de dez por cento ao mês! Toma safardana!
Mas, de tudo isso, o que deixava Dedé tristento era a falta de um dia vadio para uma caçada de bicho portentoso no mato. Fazia para mais de ano e meio que o gatilho de suas carabinas estava em licença prêmio, sem ter o gosto de pólvora na ponta do cão. Dedé praguejava contra a cidade: Criadouro de vermina e febre palustre, morada de caburé e todos os atrasos da noite, isso sim é a cidade!
Mas, como nem tudo na vida é só sofrimento, recebeu de seu melhor amigo e vizinho, convite cerimonioso para um fim de semana no mato, para uma caçada especial, de uma capivara afamada, para mais de três arrobas, que fazia vadiagem no fim de tarde num brejal de um conhecido fazendeiro. Convite recebido e contratado em despacho de desembargador jubilado Dedé passou o resto da semana como se tivesse achado o seu Potosi. Era só alegria, a ponto de todos os seus dentes virem a gozar de felicidade, como se fosse negro cativo libertado.
Dia aprazado, caça contratada de morte, com atestado lavrado em cartório dentro da lei e da pragmática, saíram os nossos caçadores de madrugadinha, com o céu ainda compromissado com a noite, mas já querendo se divorciar dela. Aos poucos, o dia ia colocando para fora dos pés de pau a sua vida. Um ajuntamento de anuns carrapateiros já iniciava a sua faina carrapatista, enquanto uma sociedade de morcegos já bocejava no recolher do sono da manhã.
Para ajustar a mira e delimpar a trabucada, os dois vizinhos iam, meio que adernado na caminhonete, atirando sem compromisso, apenas para ajustar o cangote ao peso das armas e sentir o gosto de pólvora nas ventas. Dedé esfarelou um comício de caburés que teve o desplante de caçoar de sua pessoa, o vizinho espantou um ajuntamento de quero-quero que olhava todo pescoçoso para os caçadores. Atiravam a esmo, já que caça desimportante não os interessava. Queriam caça alentosa, dessas de destroncar balança de comércio.
Iam os amigos nessa vadiação quando Dedé viu um vulto correndo ao lado da caminhonete. Sem pestanejar, sacou sua lazarina e lá foi um tiro, certeiro, com endereço registrado e carimbado na dita caça. O gatilho da arma chegou a pular de alegria no gozo da pólvora. Parado o carro, os dois amigos desceram contentes como se fossem caçadores afamados e refamados, cobrindo o terreno para encontrar a caça abatida.
Para azar dos nossos caçadores, a caminhonete, dessas quem tem a caçamba feita de madeira, levava o estrepe amarrado na lateral. Um solavanco mais firme do carro fez o nó do estrepe partir e ele se soltou, correndo ao lado da caminhonete. Ao chegarem ao local da caça abatida, para constrangimento mútuo, Dedé e o vizinho encontraram o estrepe falecido, com um tiro certeiro na banda de rolagem.
DEU NO JORNAL

POR CONTA DO FEDOR DA CACHAÇA…
JESUS DE RITINHA DE MIÚDO

SEVERINO DAS PORTEIRAS
A coisa marchou para o brejo faz anos!
Um cabra como eu, na janela do tempo observando a metade da minha vida completada, embora vivendo literalmente os nove minutos de acréscimos do primeiro tempo, com a maturidade lá em cima e já dando mostras de querer despencar, não consigo mais assistir um jornal televisivo. É crise, é violência, é corrupção… e se o bicho for mostrado de trás para frente, dá a mesma coisa. Periga até o sujeito, em meia hora de telespectador, arrumar uma depressão para o resto da vida. No meu caso, para o segundo tempo que começará em vinte e dois de fevereiro.
Nisso eu prefiro ficar pensando no povo bom do meu lugar. Um tipo Seu Severino das Porteiras – mestre nas passagens lhe emprestando o epíteto depois do nome próprio, substituindo inclusive o seu sobrenome de batismo – sendo cabra de pouca paciência, encarnando o melhor do tipo “paciência zero para perguntas bestas”.
Sertanejo alto, magro, amorenado, se foi como um octagenário de olhos acastanhados, limitado no andar, mas voava nas lembranças, na inteligência e na lucidez.
Outrora morador nas terras do Cardeiro, então propriedade do Saudoso Dr. Bezerra, naqueles dias de poucas expectativas Severino acertou de ficar ordenhando também em um sítio vizinho, para tratar um gado pouco e ganhar mais uns trocados.
Daí, um dia o patrão soube da dupla jornada e foi ter com ele para conhecer melhor como era aquilo.
Foi se aproximando de Severino e tacou-lhe e a pergunta:
– Ô Severino, você ‘tá tirando leite em Zé Braz?
– Não, doutor – respondeu em cima da bucha o velho Severino. E completou sem olhar sequer para o patrão: – Nas vacas! Pois, Zé Braz é homem e eu não tiro leite de macho.
Respondeu certinho, foi não?
Já outro dia Severino estava sentado num tronco velho, a parede da frente de sua casa servindo-lhe de espaldar e a ponta desgastada do cabo de vassoura lhe servindo de bengala sendo uma baqueta batendo no espinhaço do chão à sua frente, quando um carrão parou quase sobre os seus pés. Ao volante estava Jurema Lamartine, cordialmente lhe cumprimentando com um sonoro bom dia, naquela voz de besouro que ela tinha; voz grossa, pausada, altamente burocrática pelos cargos que ocupara durante toda sua vida profissional, desde quando a Capital Federal se avizinhava ao Maracanã.
Respondido o cumprimento, ela desceu do veículo e educadamente apertou-lhe a mão se apresentando pelo nome. Depois começou a falar de forma bem explicada, recheada da pompa que sempre lhe foi peculiar, o queixo em meneios apontando para cima e o rosto toda vida muito sério:
– Senhor Severino, eu fiquei muito tempo morando fora e agora voltei. Intenciono residir novamente por aqui e estou sabendo que o senhor é o melhor mestre em porteiras de Acary. Vim lhe encomendar uma para a minha propriedade.
– Pois não – limitou-se em responder Severino.
– Quero saber os preços – questionou Jurema.
– Diga aí as medidas, dona – quis saber o mestre, enquanto socava uma das bengalas no chão de terra batida, entre os dois pés.
– Três metros e meio de cumprimento, por um metro e sessenta de altura – respondeu Jurema franzindo a boca depois.
Severino olhou para o alto fazendo contas de cabeça. É cabra bom na Matemática mais simples. Quando encarou a possível cliente, trazia o valor na ponta da língua.
– Dá para fazer por mile e quinhentos cruzados.
Jurema pensou no valor, comparou com o salário mínimo e indagou:
– Com a madeira do senhor?
– Não! – respondeu Severino demonstrando impaciência. E completou:
– Com a minha madeira de jeito nenhum, dona – disse de forma aborrecida.
– Ela é pequena, fina, roliça e oca no meio. Num segura prego, nem parafuso – finalizou.
Daí que eu não sei se fecharam negócio. Esqueci de lhe perguntar.
Doutra feita Severino passava pela Praça do Coreto e ouviu o seguinte diálogo de “duas donas”, como ele costuma chamar senhoras de certa idade.
– Vai viajar, mulher? – perguntou a primeira.
– Vou – respondeu secamente a segunda.
– E vai só a passeio? – quis saber a outra.
– Não. Vou botar uma chapa em Natal.
Foi aí que Severino, parou, virou-se com a dificuldade imposta por seus joelhos e entrou na conversa.
– A senhora deve ser muito rica – ponderou com sua voz arrastada.
– Vai colocar uma chapa em Natal. Em Natal! Fico só imaginando o tamanho desses dentes – finalizou.
E saiu se equilibrando sobre as duas madeiras lhe servindo de bengalas.
– Ô, seu Severino, esse ano dá chuva?
– Se não der das nuvens, de ano é que num dá, hum-rum!
E quando não foi melhor sorrir do que chorar?
DEU NO JORNAL

QUANDO O TRAFICANTE VIRA TRABALHADOR E O CRIMINOSO, HERÓI. ONDE VAMOS PARAR!
Thiago Rafael Vieira

Policiais do Rio de Janeiro levam suspeitos presos (ou “trabalhadores megaexplorados”, segundo vereadora porto-alegrense) durante operação contra o Comando Vermelho
Dias após a famosa operação policial no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho que resultou na morte de 4 policiais e 117 bandidos, conforme informações do governo fluminense, a vereadora Karen Santos (Psol) subiu à tribuna da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para oferecer ao país uma tese tão exótica quanto perigosa:
“O álcool é legalizado, o cigarro é legalizado, o açúcar, o café e os medicamentos tarja preta também. Quer acabar com as drogas? Regulamenta. Porque é interessante para o capitalismo explorar essa cadeia produtiva – das pessoas que plantam, das que embalam, das que transportam, até chegar no varejo, na biqueira. São trabalhadores, megaexplorados, sem direitos garantidos, e o setor é bilionário, sem taxação de impostos.”
O discurso parece saído de um panfleto de centro acadêmico cubano dos anos 1970 – e, infelizmente, foi dito por uma parlamentar em pleno exercício do mandato.
A fala da vereadora não é apenas absurda. É perigosa.
Chamar traficante de “trabalhador explorado” não é compaixão, mas a normalização de uma conduta criminosa e altamente prejudicial à sociedade. É classificar o crime como uma categoria social e, quando o crime se torna uma categoria social, o Estado de Direito desaba. A sociedade passa a confundir transgressão com direito e barbárie com empatia. O resultado é um mundo invertido ao estilo de Stranger Things, onde o criminoso é vítima e a lei é o agressor.
Dizer que o tráfico é uma “cadeia produtiva” é tratar o veneno como alimento, o crime como trabalho e o mal como modelo econômico. Isso não é progressismo; muito pelo contrário, é regressão civilizatória. O tráfico não é um setor da economia: é um câncer moral e social, que destrói famílias, mata jovens, corrompe as instituições e dissolve a alma moral da cidade.
Como ensinavam Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, legalizar o mal não o transforma em bem, apenas o institucionaliza. A justiça não nasce da permissividade, mas da coragem de dizer não ao que destrói o ser humano. Combater o crime é defender o bem comum, e justificar o mal em nome da ideologia é se tornar cúmplice da desordem e do caos social. A verdade é que, quando a lei perde o sentido moral, a civilização perde o rumo.
A lista de razões para rejeitar esse delírio da parlamentar Karen Santos é bem longa, mas traremos dez delas:
1. Atenta contra o Estado de Direito
Quando relativizamos o crime e o mal que ele causa, enfraquecemos o princípio substantivo da legalidade. O Estado de Direito existe para garantir que ninguém – nem político, nem criminoso – esteja acima da lei. Chamar o traficante de “trabalhador” é dissolver a fronteira entre o lícito e o ilícito, o legal e o ilegal.
2. Viola o bem comum
O tráfico de drogas é a negação máxima do bem comum em uma sociedade. O traficante e toda a sua “cadeia produtiva” lucram com a destruição da pessoa humana e com o caos social. Defendê-los é promover a injustiça como política pública.
3. Destrói a comunidade
A vida comunitária se sustenta na confiança, na gratidão e no senso de justiça. Esse tipo de discurso substitui virtudes por vitimização, e transforma o criminoso em herói. Nossas crianças perdem o referencial do bem e, com o tempo, a comunidade se desintegra.
4. Rompe com a ideia de democracia
A democracia depende de cidadãos livres e responsáveis, não de cúmplices do crime. Legitimar o tráfico é inverter o papel do poder político: de protetor da sociedade para cúmplice da desordem. A democracia deixa de ser instrumento da cidadania para ser instrumentalizada pelo crime.
5. Desmoraliza a justiça e o trabalho honesto
Equiparar traficantes a trabalhadores é insultar quem vive do próprio esforço. O trabalho edifica; o tráfico destrói.
6. Destrói o conceito de ordem
A ordem é o alicerce da paz social e do progresso. Como diz o nosso pavilhão nacional, a bandeira do Brasil, não há progresso sem ordem. Legalizar o crime é transformar a lei em piada e o Estado em cúmplice do caos. É romper com a ordem e impedir o progresso.
7. Fere a dignidade humana e a saúde social
O tráfico mata o corpo e a alma. As drogas corrompem os costumes que dão sentido à vida e, por fim, escravizam seus usuários, que deixam de ter livre arbítrio. Não há vida saudável onde a destruição é celebrada como cultura e categoria social.
8. Corrói a responsabilidade moral
Se com a legalização do mal a ideia é remover a culpa de quem usa e, principalmente, de quem vende e distribui, elimina-se também a possibilidade de arrependimento e de mudança de vida. Sem responsabilidade, não há liberdade – só anarquia disfarçada de empatia.
9. O “aviãozinho” do tráfico não se liberta com legalização, mas com educação
O jovem usado pelo crime não precisa de um CNPJ, mas de escola, oportunidade e propósito. É o conhecimento que liberta, não a transformação artificial do mal em bem.
10. A falácia da “regulamentação resolve”
Comparar drogas ilícitas com álcool e cigarro é intelectualmente desonesto.
O álcool e o tabaco, embora nocivos, não destroem a consciência nem a alma humana como o entorpecente. São vícios tolerados, não modelos de virtude. A droga, ao contrário, aniquila a autonomia da vontade e cria dependência quase total.
Um Estado que regulamenta o tráfico não regula o mal – ele o institucionaliza.
Regular o mal não o domestica; apenas lhe confere forma jurídica. A verdadeira política pública não é transformar o vício em mercado, mas impedir que o vício se torne cultura.
Enquanto o álcool e o cigarro desafiam a saúde, o tráfico desafia a própria ideia de humanidade, porque faz da destruição do outro um modo de vida. Quando o poder público passa a flertar com esse abismo moral, o que cai primeiro não é a lei; é a alma da nação.
Nós não legalizamos o mal. Não romantizamos o crime. Nós o combatemos. Dizemos não às drogas. E você?
DEU NO JORNAL

MAS GANHA NA CONVERSA…
DEU NO X

IDADE E GORDURA DEFORMAM MUITO…
LAUDEIR ÂNGELO - A CACETADA DO DIA