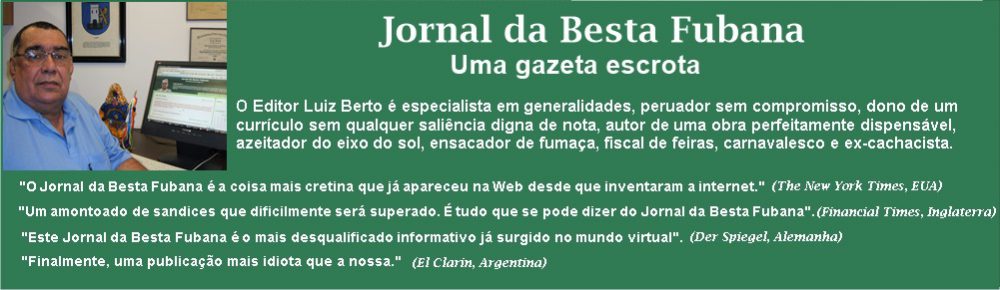Escrevo no início de 2026, ainda sob o impacto de uma constatação simples, mas inquietante: um quarto do século XXI já se foi. Para mim, que neste mesmo ano devo completar um quarto de século no exercício da magistratura federal, essa coincidência temporal funciona como um convite à reflexão — não sobre minha trajetória pessoal, mas sobre o mundo no qual vivemos nesses últimos vinte e cinco anos.
Lembro, então, de um documentário intitulado Primeira Guerra Mundial – o fim de uma era. Volta e meia o revejo, e sempre me chama a atenção a descrição do clima de otimismo que dominava a Europa no final do século XIX. Havia guerras no passado, é verdade, mas acreditava-se que o equilíbrio diplomático e o progresso haviam finalmente domesticado a barbárie.
Sabemos como essa história terminou.
O século XX mal havia começado quando a Primeira Guerra Mundial inaugurou um novo padrão de violência, industrializado e total. Logo em seguida, a gripe espanhola expôs dramaticamente a vulnerabilidade humana. A Revolução Russa, por sua vez, introduziu uma experiência política fundada no coletivismo estatal e na supressão sistemática das liberdades individuais. E, antes mesmo da metade do século, o mundo já estava mergulhado em outra guerra global, seguida pela Guerra Fria e pela ameaça permanente de aniquilação nuclear.
Esse conjunto de acontecimentos desmontou a ilusão de que o avanço científico e econômico seria suficiente para garantir progresso moral e estabilidade política.
Ainda assim, iniciamos o século XXI com esperanças renovadas. O fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética pareciam sinalizar o esgotamento histórico de projetos totalizantes. A globalização econômica avançava, a internet prometia ampliar o acesso à informação e fortalecer a autonomia individual, e uma consciência ambiental global começava a se consolidar. Tudo indicava que certos aprendizados haviam sido definitivamente incorporados.
Parecia plausível imaginar um século menos violento, mais cooperativo e mais racional.
Passados, porém, vinte e cinco anos, o balanço é menos alentador.
Os atentados de 11 de setembro de 2001 mostraram que conflitos ideológicos e religiosos estavam longe de ter sido superados. A crise financeira de 2008 expôs fragilidades profundas das economias e das instituições democráticas. A polarização política se intensificou, em parte impulsionada pelas redes sociais, que passaram a funcionar não apenas como instrumentos de informação, mas também como catalisadoras de radicalismos e tribalismos.
No plano internacional, os conflitos armados retornaram com força. O avanço do Estado Islâmico no Oriente Médio, a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e a guerra no Donbass já haviam sinalizado que a ideia de uma Europa definitivamente pacificada era ilusória. Em 2022, a invasão da Ucrânia em larga escala dissipou qualquer resquício de complacência histórica — e trouxe de volta algo que muitos julgavam enterrado no século passado: o receio concreto de um conflito nuclear, reacendido pelas ameaças reiteradas feitas pelo Kremlin. Em breve o conflito completará quatro anos, sem grandes expectativas de chegar ao fim.
Como se essas semelhanças entre o início dos séculos XX e XXI não bastassem, fomos “contemplados” com nossa própria tragédia sanitária. A pandemia da Covid-19 revelou, mais uma vez, a vulnerabilidade humana e a rapidez com que direitos individuais podem ser relativizados em nome da segurança coletiva. Em muitos países, medidas restritivas do direito de ir e vir, e de buscar o próprio sustento, foram implementadas. Sob o argumento de proteger as pessoas, retirava-se sua liberdade.
Independentemente do juízo que se faça sobre as medidas adotadas, o fato é que o medo mostrou-se um poderoso instrumento de expansão do poder estatal.
Como se vê, confrontar o primeiro quarto do século XX com o mesmo período do século XXI, não é apenas um exercício de memória histórica, mas um teste de maturidade civilizatória.
Em A Rebelião das Massas, Ortega y Gasset adverte que o homem-massa tende a usufruir das facilidades da vida moderna como se fossem dados naturais, esquecendo-se de que são construções humanas, fruto de esforço histórico acumulado. Quando essas conquistas passam a ser vistas como automáticas e garantidas, abre-se espaço para a irresponsabilidade cívica e para a delegação acrítica de decisões fundamentais.
Essa advertência é especialmente relevante para quem ocupa posições de liderança ou influência. Ter uma visão mais ampla dos acontecimentos não é um privilégio; é uma responsabilidade. A história mostra que atos explícitos de barbárie não começam repentinamente, mas vão sendo naturalizados pela passividade e pela crença de que estruturas abstratas cuidarão de tudo.
Encerrando estas reflexões, recuso-me a aceitar o pessimismo estéril, e insisto em um ponto essencial: nada está garantido pela simples marcha do tempo. As condições que permitem uma vida digna, livre e próspera não se mantêm sozinhas. Exigem vigilância, compromisso ético e disposição permanente para questionar soluções fáceis para problemas complexos.
Se o século XX nos ensinou o preço da ilusão histórica, o primeiro quarto do século XXI nos recorda que a civilização não se herda pronta: ela se administra, se defende e se reconstrói todos os dias.