
Como circo, não era lá essas coisas. No diminuto comboio de trailers viajavam o dono (e apresentador do espetáculo), dois trapezistas, um mágico com sua ajudante, um palhaço, dois ou três funcionários e um homem com cara de galã mexicano – o bigode fino e perfeitamente aparado combinava com o topete besuntado de brilhantina, cada fio de cabelo em seu lugar. Não havia globo da morte, jaulas com feras que faziam tudo o que mandava o domador, saltos sem rede embaixo, nenhum desses requintes de circo com nome estrangeiro. Mas uma atração adicional compensava quaisquer carências: na segunda parte da noitada era apresentada uma peça de teatro. Isso fazia a diferença e justificava o nome nas placas com luzes vermelhas penduradas sobre a entrada: Circo Teatro Irmãos Nogueira.
No começo da década de 1960, a trupe – que não incluía nenhum Nogueira, muito menos dois – andou ancorando em Taquaritinga uma vez por semestre, para temporadas de três semanas. Numa noite de 1961, com pouco mais de 10 anos, fui apresentado aos subúrbios do mundo de Shakespeare. Sentado no camarote do prefeito, vi ao lado do meu pai “Maconha, a Erva Maldita”, um drama com apenas três atores mas capaz de fazer chorar até o dentista mais temido da cidade. O protagonista era o homem com jeito de galã, no papel do filho viciado que infernizava a vida do pai (um dos trapezistas) e da mãe (a ajudante do mágico).
A procissão de horrores consumia quase integralmente os 30 minutos do enredo. E a indignação reinava entre os homens, e a choradeira banhava o rosto das mulheres na arquibancada. A cada tragada no cigarrinho maligno, lá vinham bofetadas na mãe, socos e pontapés no pai e outras brutalidades, anabolizadas por insultos, ofensas e blasfêmias. Em vão, os espectadores tentavam deter o moço enlouquecido berrando medonhas promessas de revide. Alheio aos protestos, ele continuava barbarizando em cena até o desfecho inesperado. Depois de um ligeiro sumiço por trás da cortina, o carrasco doméstico reaparecia enfim liberto do vício hediondo. Abraçados ao filho risonho e vestido com mais apuro, os pais festejavam o final feliz. Só então acabava o sofrimento da caipirada na plateia, que aplaudia enquanto enxugava cataratas de lágrimas.
Achei a coisa meio exagerada. Teatro era mesmo aquilo? Voltei na noite seguinte para concluir a avaliação do repertório reduzido a duas peças. A segunda era “Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo”. Já vira a história no cinema, num filme mudo. Resolvi conferir a versão circense e acompanhar com especial atenção a performance do protagonista. O filho maluco de “Maconha, a Erva Maldita” também interpretava o filho de Deus. Eu já estava estendido no camarote quando soube que ele fora derrubado no meio da madrugada por uma gripe que o impedia de atuar naquele sábado. Ao despertar, o astro balbuciou o recado ao patrão: faltavam-lhe forças para encarnar o papel de Jesus. O patrão já se conformara com o cancelamento do espetáculo quando foi abordado por um exotismo municipal chamado Chicho Laize.
Muito doido, falante, audacioso, disfarçando a matreirice com a expressão abobalhada, Chicho colecionava façanhas que meio mundo conhecia. Sem profissão definida, vivia de bicos. O mais recente fora ajudar a erguer a lona e ajeitar as tralhas dos trailers, o que lhe bastara para comportar-se como amigo de infância da trupe. Todos (inclusive o dono) o tratavam pelo nome. Mas nenhum deles (inclusive o dono) sabia que Chicho era maluco.
Informado da defecção no elenco, foi falar com o chefe.
– O senhor sabe qual é a minha verdadeira profissão? – perguntou.
O silêncio do homem respondeu que não.
– Artista – revelou Chicho. – Artista de teatro.
– Você sabe fazer Jesus Cristo? – animou-se o patrão.
– É o papel que mais conheço – gabou-se Chicho.
Apeça de 20 minutos já começava no calvário. Quando a cortina se abriu, lá estava Chicho Laize carregando uma pequena cruz de madeira, escoltado por dois soldados romanos (os trapezistas) armados de chicote e Maria Madalena (a ajudante do mágico) com uma toalha na mão. Espanto na plateia. O soldado à direita do Cristo abriu a encenação com um insulto a Jesus e uma chicotada que colidiu com o palco-picadeiro a centímetros do pé do mártir.
– Cuidado que isso vai me pegar! – advertiu Chicho.
Risos na plateia. Mais alguns passos e ouviu-se o pedido ao soldado à esquerda do filho de Deus:
– Vem cá e me ajuda – disse o protagonista. – Essa cruz é meio pesada.
O romano a sua direita reagiu ao apelo com outro estalo de chicote. O terceiro golpe acertou a canela e acabou com a paciência do Cristo:
– Agora você me pegou, porra! Eu tinha avisado! Foi de propósito!
Gargalhadas na plateia. O dono do circo ordenou um intervalo de cinco minutos. Reaberta a cortina, vibração na plateia. Pendurado na cruz, cercado pelo Bom Ladrão (um dos soldados do primeiro ato) e pelo Mau Ladrão (o outro soldado), Chicho tinha um cigarro pendurado no canto da boca.
– Se és o filho de Deus, livrai-me desta cruz! – implorou o Bom Ladrão.
– Tá difícil – retrucou Jesus. – Mas vou ver se consigo falar com meu Pai.
O Mau Ladrão partiu para a provocação:
– És apenas um mentiroso sem poderes – desdenhou em tom debochado. – Se tens forças milagrosas, por que não te livras desta cruz?
Chicho caprichou na réplica:
– Cala a boca, ladrão! – ordenou. Em seguida, apontou o indicador esquerdo para o alto e berrou a ameaça: – Deixa que lá em cima nós acerta!
O acesso de ira fez o cigarro cair-lhe da boca. Uma pequena chama apareceu no sopé da cruz. Em vez de apagá-la com dois ou três sopros, o dono do circo convocou o elenco para combater o incêndio e avisou ao distinto público que o espetáculo chegara ao fim. No dia seguinte, a trupe partiu para nunca mais voltar. Atravessei a infância e o início da adolescência achando que teatro era aquilo. Descobri que não quando, já um marmanjo, vi em cena grandes atores e atrizes.
Recordo aquelas noites no circo e penso no pesadelo imposto às crianças pelo Brasil do coronavírus. Muitos milhares têm a idade que eu tinha quando achei que aquilo era teatro. A garotada guardará na memória e na alma o que viu, ouviu e teve de fazer no ano mais estranho. Há dez meses, essas crianças souberam que uma doença difícil de explicar exigia a troca da sala de aulas pelo computador instalado numa sala da casa. Que deveriam pedir a ajuda dos pais em vez de recorrerem aos professores. Que deixariam de brincar com os amigos e teriam de conformar-se com a companhia de irmãos (ou com a solidão). Que as visitas aos avós estavam suspensas até sabe Deus quando. Devem estar achando que um país é assim mesmo, que muitos pais e professores são assim mesmo, que todos os que mandam são assim mesmo.
Mas não deveria ser assim, descobrirão quando souberem o que efetivamente aconteceu em 2020. Então a Geração Covid entenderá que teve inutilmente confiscado um ano inteiro de vida. Para que o crime se consumasse, conjugaram-se uma boa parcela de professores orientados pela ideologia da preguiça, de diretores e donos de escolas movidos pela política do lucro, de pais e mães infectados pela epidemia de pusilanimidade estrábica, a soberba de jaleco e governantes que se dividem em duas tribos infames: a dos irremediavelmente incapazes e a dos capazes de tudo. Ambas só aceitam gente que não sabe o que são afetos reais. É compreensível que nenhum dos envolvidos na conjura perca o sono com as violências infligidas às crianças do Brasil.
A quarentena escolar brasileira é a mais extensa e intensa do mundo. Não foi a primeira geração de crianças traídas. Mas nenhuma foi tão cruelmente atraiçoada por tantos traidores.
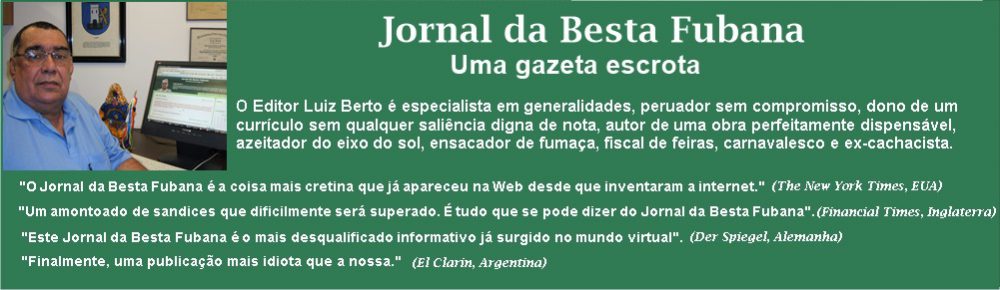


Realmente, ir à praia pode, ir ao shopping pode, mas ir à escola não.
Concordo contigo
Excelente artigo.
A tristeza de estar vivendo os desmandos (ou mandos demais) nesses tempos deixa todos atordoados. Nada justifica a desenfreada busca por Poder e Riqueza incidindo sobre a saúde física e psicológica das pessoas.
Tempos sombrios.