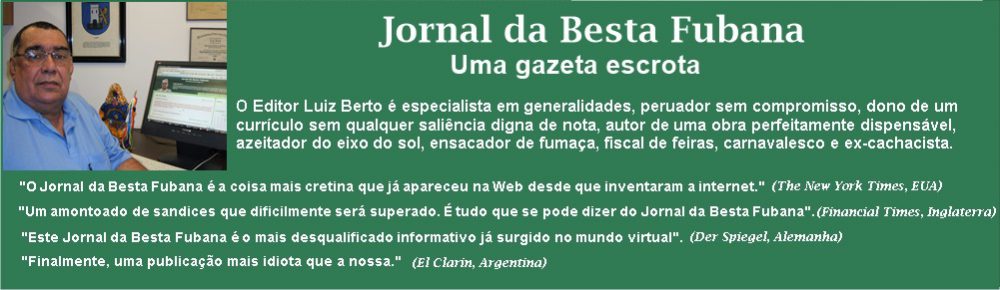Nas últimas colunas, falamos do fim de Pessoa. Falta o complemento. Tentando saber de que morreu Pessoa. Ao responder, antes de tudo, é preciso considerar o cenário primitivo da medicina àquele tempo. Para exames de imagem, único recurso era a radiografia (desde 1895). O uso de plasma, como transfusão, apenas começava. Sulfas são de 1936; bancos de sangue, de 1937; penicilina, de 1944; ultrassonografia, endoscopia, tomografia, ressonância magnética e outros exames sofisticados viriam só na segunda metade do século XX. Tudo bem depois de sua morte, no distante 1935.
Em Portugal, longe dos grandes centros da Europa, atendimentos médicos domici liares ainda eram rotina. Hospitais destinavam-se apenas a casos graves, quase sempre terminais; e mais pareciam asilos ‒ lugares a que se ia para amainar dores de feridas crônicas, fazer amputações, lancetar grandes abscessos e morrer. Sem informações médicas mais detalhadas, resta especular sobre o diagnóstico. Vamos aos mais indicados pelos especialistas que consultei, todos (e foram muitos) professores doutores.
CIRROSE. Referência mais comum, entre os especialistas em Pessoa, é que a morte se deu por cirrose, a partir do álcool que consumiu pela vida inteira. Cirrose é fibrose grosseira que endurece o fígado e o leva à falência. Pode também evoluir para grande conjunto de consequências físicas ‒ disfunção sexual, atrofia testicular, aumento das mamas, queda de pelos; além de lesões vasculares da pele, em forma de aranha, conhecidas como telangiectasias aracniformes – dado seu tamanho diminuto, não facilmente reconhecíveis por quem convive com o paciente. Ausente quaisquer destes sinais, em seu caso.
Não obstante, o histórico de Pessoa sugere ser mesmo grande a chance de haver tido cirrose. Talvez até mais que apenas uma grande chance. É esse, aliás, o diagnóstico do médico dr. Bastos Tigre, depois de examiná-lo pelos anos 1920. Com o conhecimento que se tem hoje, é bem sabida a relação epidemiológica direta entre cirrose e alcoolismo, num período de 25 anos, avançando à medida que aumenta o volume do álcool. Praticamente nula até uma ingestão diária de 40 gramas, evolui para percentual de 50 por cento ao atingir 200 gramas, sem aumentos estatísticos a partir de então. E Pessoa bebia, por dia, muito mais que ditos gramas.
Na tentativa de calcular o montante de álcool diário por ele consumido, Francisco Manuel Fonseca Ferreira contabiliza uma garrafa de vinho a cada refeição principal, seis cálices de aguardente ao longo do dia, mais uma garrafa de vinho (ou mesmo garrafão) durante a noi te. Provavelmente, a quantidade seria maior ainda. A começar pelos seis cálices de aguardente, ao longo do dia, que parece uma conta modesta. Sobretudo no período próximo da morte. Sem contar que à noite, em vez de vinho, quase sempre prefere mesmo a aguardente da bendita garrafinha que sempre sempre o acompanhava.
Mas não é cirrose, com certeza, a causa de sua morte. Nem nenhuma doença hepática crônica descompensada. Tivesse efetivamente sofrido algo assim, dificilmente exibiria o vigor intelectual e a grandeza na produção do seu último ano de vida. Sabemos que se sentiu mal, teve dores abdominais e internou-se no hospital. Tudo muito rapidamente. Mas, para que morres se de cirrose, teria necessariamente demonstrado antes, além de desnutrição e fraqueza muscular (adinamia) intensa, também alguns dos sintomas clássicos que acompanham o estágio terminal de todas as cirroses. Em breve resumo:
a) Icterícia – em que apresentaria o corpo amarelado.
b) Ascite – em que aumentaria o volume do seu abdome. As calças ficariam com alguns botões sempre abertos e, nas pernas, demasiado grandes; posto que essa ascite, enquanto faz o restante do corpo definhar, aumenta só a cintura do paciente ‒ daí vindo sua designação popular, barriga-d’água.
c) Distúrbios neuropsíquicos – em que teria tido necessariamente agravadas, pelo álcool, disfunções neurológicas (como tremores, sobretudo nas mãos) e obnubilação (perturbação da consciência).
d) Hemorragia digestiva alta – com perda de sangue. Caso essa perda seguisse o trânsito digestivo normal, teria as fezes enegrecidas; e, quando não, vomitaria sangue. Um sintoma que, dado ter pai tuberculoso, logo chamaria a atenção da família, dos amigos, dos colegas de escritório, sobretudo porque são hemorragias geralmente volumosas.
e) Coma – por falência funcional do fígado ou complicações infecciosas.
Sem nenhuma referência qualquer a estes sinais, no relato dos amigos que com ele estiveram nos últimos dias. Nem no dos médicos que o atenderam. Mas não apenas por isso deve-se afastar, definitivamente, a hipótese de ter sido cirrose a causa de sua morte. Sobretudo porque cirrose não causa dor abdominal aguda, sua grande queixa nos últimos dias de vida. Só essa constatação bastaria.
OUTRAS CAUSAS POSSÍVEIS. As dificuldades para um diagnóstico aumentam. Na certidão de óbito da 5a Conservatória (hoje, com registro transferido à 7a Conservatória do Registro Cível de Lisboa, folha 805, assento número 1.609), está obstrução intestinal ‒ sem informações sobre o que teria levado a essa obstrução. Um evento pouco provável pela falta de distensão abdominal, de movimentos peristálticos visíveis ou vômitos.
Seria também razoável, sempre em tese, que pudesse ter tido tuberculose (a doença que vitimou seu pai) ou outros males do pulmão, por ser um fumante inveterado. De charuto e cigarro. E não custa lembrar que teve sempre gripes fortes, pela vida ‒ “dor de garganta”, como diz em seu diário. No início três por ano, ao passar do tempo foram ficando bem mais frequentes. E tantas eram que preferia dormir em um quarto interno do apartamento, longe do frio que no inverno penetrava pelas janelas. Mas tuberculose, mesmo intestinal, jamais daria um quadro agudo como o seu. Disso também não morreu.
No Livro de Registro do Hospital São Luís dos Franceses, o diagnóstico do dr. Jaime Neves é cólica hepática. Mas essa cólica hepática, atualmente chamada cólica biliar, não resulta do consumo de álcool. E nem mesmo tem a ver com o fígado, por decorrer de obstrução na vesícula, sendo sua causa mais comum a litíase. Esse diagnóstico do dr. Jaime Neves, por tudo, merece pouca fé. Caso assim se desse, e mesmo com os conhecimentos científicos da época, já se sabia que, sem intervenção médica, morreria em poucos dias ‒ dada a ocorrência inevitável de septicemia e falência de órgãos. Fosse mesmo esse o mal e, quase certamente, seria operado. Até porque cirurgias de vesícula já eram praticadas, com alguma regularidade, no Portugal daquele tempo. Mais provável é que, ante as incertezas no diagnóstico, tenha o primo doutor anotado uma causa qualquer, no prontuário médico, suficiente para justificar a morte.
CAUSA MORTIS PROVÁVEL, PANCREATITE. A mais provável hipótese médica é mesmo abdome agudo, decorrente de pancreatite. Um quadro, regra geral, não precedido por antecedentes clínicos, como ocorreu com Pessoa. Comum em alcoólicos, essa pancreatite é caracterizada por dor muito forte no abdome, associada com frequência a um quadro de choque grave e distúrbios metabólicos importantes.
Aumentando as chances estatísticas dessa hipótese, considere-se que certamente já não tinha um pâncreas sadio. Sem contar a possibilidade, comum em pancreatites, de ocorrer um quadro de dor tão forte (semelhante à de litíase biliar), no abdome superior, que poderia levar a desmaios ‒ por conta de enzimas pancreáticas que caem na corrente sanguínea, na ca vidade abdominal e/ou na retrocavidade dos epíploos.
Quando o encontraram sem sentidos à porta do banheiro, nos dias que precederam sua morte, talvez tenha tido apenas um episódio de hipoglicemia ‒ frequente em alcoólicos que bebem dias a fio (quase) sem comer ‒ ou delirium tremens, não há como saber; só que, mais provavelmente, terá sido um desses desmaios característicos da doença responsável por sua morte.
Tudo levando a crer que as dores que sentiu nos últimos dias, e de que tanto se queixou, devem ter mesmo sido surtos dessa pancreatite ‒ a causa da morte do poeta. Pessoa morreu? Viva Pessoa.